Edição de Sábado: Que esquerda é essa?
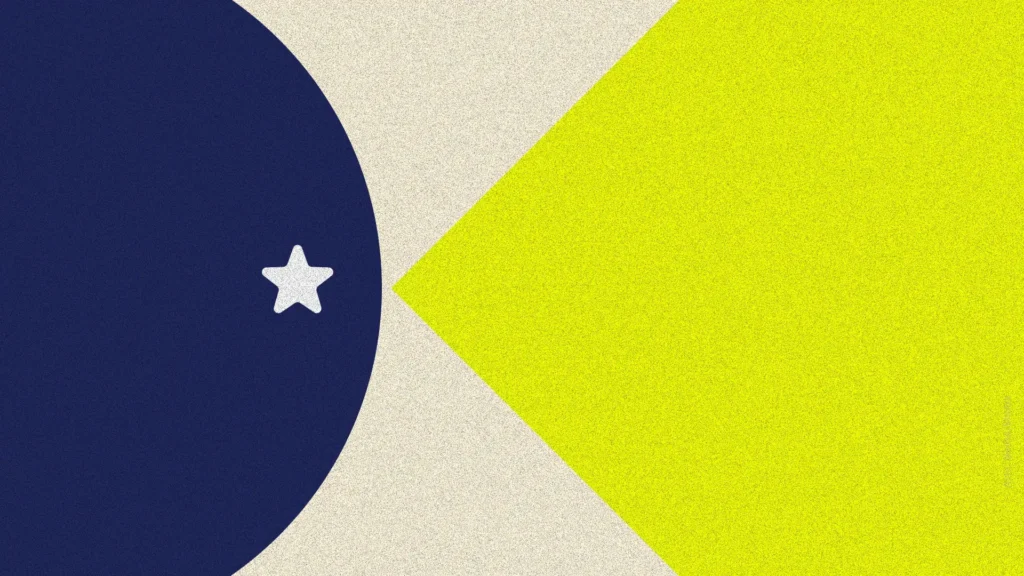
Pouco mais de uma semana depois do primeiro turno, Fernando Haddad, o ministro da Fazenda de Lula, sentou-se diante da jornalista Monica Bergamo para uma longa entrevista e, com a sobriedade habitual, tentou justificar o resultado ruim das urnas para a esquerda enquanto o governo federal apresenta bons números na economia. Haddad carrega em si quase todo o dilema — e talvez parte das respostas — que vive seu campo ideológico. É, ao mesmo tempo, alguém que acredita em muitas ideias basilares do pensamento fundador da esquerda, mas que busca atualizá-las para os tempos modernos. Não é um exercício fácil. Os que são mais apegados a diretrizes tradicionais acusam essa postura do ministro de ser atucanada, quase uma traição.
Como de costume, Haddad procurou na história recente parte das explicações para o fracasso eleitoral atual. Creditou ao avanço da extrema direita, recorrente em momentos de grandes crises “sistêmicas”, como denominou. “Em 2008, assistimos a uma crise [financeira] do neoliberalismo, e a extrema direita começou a avançar no mundo inteiro. Seu pensamento começou a se impor. A segunda razão para que isso acontecesse, além da crise do modelo neoliberal, é que a esquerda, naquele momento, ainda estava saudosa de estruturas do século 20 que tinham feito água nos anos 1980. O sistema soviético, o nacional-desenvolvimentismo e a própria social-democracia europeia, que eram as três grandes estruturas com as quais partes da esquerda dialogavam, tinham desaparecido, entrado em colapso quase. Sobrou para a extrema direita.”
Haddad não se absteve de fazer também um autodiagnóstico. Disse que “a esquerda não estava preparada para 2008 [ano de crise econômica global], com um programa renovado, com um sonho renovado.” E prosseguiu. “A bem da verdade, a esquerda ainda não está dialogando com um projeto de futuro. Quando você não tem um sonho, um horizonte utópico que guia as pessoas, você tem um horizonte distópico. E a extrema direita é distópica.” Haddad não soube oferecer, de pronto, que sonho seria esse. “É preciso fazer uma reflexão séria. E eu penso que a esquerda está se devendo a isso. Mais formulação teórica, mais aprendizado, mais ousadia na reflexão sobre o que é possível fazer.”
Haddad não está se questionando sozinho. O ICL reuniu cinco nomes da esquerda para um debate sobre seu futuro: a ex-deputada Manuela D’ávila, a filósofa Márcia Tiburi, o sociólogo Jessé de Souza, o professor e influenciador Jones Manoel, o deputado federal Lindbergh Farias e o deputado estadual Renato Freitas. Temas como o distanciamento da periferia, a política fiscal, a ideologia envergonhada, a onipresença de Lula e o identitarismo surgiram, com diferentes defesas e projeções. Manuela anunciou ali que estava deixando o PCdoB, por “falta de opção, por falta de condições de qual caminho seguir”. Ela disse ser fundamental que “a esquerda brasileira supere um discurso superficial, ou um discurso de quem não se dedica a compreender o Brasil e o povo brasileiro”. “Cada vez que uma certa esquerda diz que isso é debater identidade, nós nos afastamos mais e mais dos problemas reais que o povo brasileiro vive. A esquerda tem de superar esse debate atrasado entre raça, gênero e classe.”
A esquerda parece hoje dividida entre alguns rumos. Fincar mais fundo suas bandeiras ou reinventá-las. Virar-se ao centro ou reforçar sua contraposição à extrema direita. Remodelar ou não as lutas identitárias.
Pois se há questionamentos sobre a reação, há uma boa dose de consenso sobre a conclusão apresentada nesse ciclo eleitoral: existe uma incapacidade dos partidos do espectro hoje de se reconectar com suas bases. No momento da constatação do ministro, membros do PT, PSB, PCdoB, PDT e PSOL já analisavam aflitos o desenho das urnas que saiu do primeiro turno. Um cenário desfavorável, considerando o que esse leque de siglas angariou de prefeituras durante os mandatos presidenciais petistas anteriores, tanto de Luiz Inácio Lula da Silva quanto de Dilma Rousseff. No primeiro turno, o conjunto de siglas de esquerda conseguiu 724 prefeituras, menos da metade dos municípios conquistados ao final do processo eleitoral de 10 anos atrás, em 2012, quando a esquerda foi eleita para administrar 1.468 cidades. Esse número não crescerá no segundo turno o suficiente para fazer frente ao centrista PSD, por exemplo, que conquistou sozinho 878 municípios.
As eleições municipais costumam marcar uma espécie de referendo do governo federal vigente. No caso desta de 2024, com a aritmética até aqui, a direita e a centro-direita estão dizendo à frente ampla do presidente Lula que o país está pendendo mais ao seu lado conservador. Isso não é novo, evidentemente. Acontece que a esquerda e, por ombreamento, a centro-esquerda precisam se reacomodar se quiserem seguir sendo competitivas eleitoral e politicamente. Mas que esquerda é essa de que fala Haddad e que se apresenta ao Brasil? Quais suas nuances e suas divisões internas? Quais suas bandeiras? Respostas para essas e muitas outras perguntas ainda não foram dadas nem internamente. A esquerda passa por dificuldades em se reconhecer. E, sem isso, sofre para se reapresentar.
Rearranjos internos
É chiste recorrente o de que, em partidos de esquerda, tudo vira assembleia. Então, naturalmente, a executiva nacional do PT marcou uma reunião para a próxima segunda-feira com o objetivo de avaliar o que ocorreu nas urnas Brasil afora e começar a organizar uma conferência da legenda, a ser realizada em dezembro, na qual o partido vai buscar novos caminhos. Anedotas à parte, esse é um indício de que o maior partido da esquerda brasileira está disposto a se olhar no espelho. O ponto de partida é a percepção, especialmente entre os mais antigos, de que o desafio de encontrar a reconexão com as camadas mais populares é enorme. Um sentimento é comum entre os políticos desse campo com quem o Meio conversou: as bases sociais que geraram a esquerda brasileira se alteraram muito. A lembrança da ditadura está esmaecida e o movimento sindical não tem a força de antes, entre outros pontos que cercam as relações entre capital e trabalho. “Essas bases não deixaram de existir, mas se modificaram", constatou um petista histórico, que preferiu falar em reservado.
Diante disso, a forma de atrair o voto dos empreendedores ou mesmo dos trabalhadores mais precarizados parece uma incógnita. Do lado da direita, quem tratou de forçar a conversa sobre e com esse público foi principalmente Pablo Marçal. Até aqui, quem vem batendo mais nessa tecla no lado oposto tem sido Lula. “Nós temos a sorte e a competência de ter uma liderança como o Lula que fala à esquerda, ao centro e até, por vezes, à direita. O grande desafio para todos nós nesse campo que chamamos de esquerda é ocupar o espaço que o Lula ocupa e ser capaz de apresentar maneiras atrativas para aquele cidadão que não é de esquerda, mas que pode se aproximar com bandeiras atrativas. Quais são essas bandeiras? Ninguém sabe ao certo”, reconhece esse petista.
Quadro histórico do PT e hoje secretário nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Gilberto Carvalho foi chefe de gabinete de Lula nos primeiros mandatos e hoje também se ressente da perda dessa conexão — não só do PT, mas da esquerda como um todo — com a periferia. Ele participou da formação do partido oriunda das comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, outra força social em declínio e contraída pela ascensão das denominações evangélicas. E enxerga como complexa a necessária virada que o partido precisará fazer. “Conseguimos, em determinado momento, pós-ditadura, captar o sentimento da sociedade por justiça, democracia e direitos. Tínhamos aliados importantes como a Igreja Católica, o movimento sindical forte, os movimentos sociais crescentes na sociedade.” A ruptura começou, para Carvalho, ainda na gestão de Dilma, com as manifestações que colocaram em xeque o governo do PT. “Estamos diante de uma espécie de crise civilizatória e não sabemos como lidar com isso. Não é simples dizer quais são as bandeiras.”
O senador Humberto Costa, do PT pernambucano e que faz parte da executiva da sigla, acha que o “calor das eleições” não é adequado ao diagnóstico e que a reformulação precisa ser feita considerando ações de curto, médio e longo prazo. Mas concorda que é preciso começar a falar do assunto. “Vamos começar a fazer essa leitura na segunda-feira”, disse. “Vamos chamar pessoas que possam nos ajudar a traçar essas estratégias e tratar tanto do governo Lula quanto do projeto da esquerda.” Costa ainda indica a necessidade de se reavaliar a “atualidade e a potência” do projeto do partido com olho voltado para as eleições de 2026.
Um sintoma de que achar o rumo parece ser uma tarefa difícil se percebe na pergunta que tem sido feita por petistas. “Por que um governo com todas as ações e realizações positivas não tem uma avaliação bastante positiva?”, questionou Costa, depois de citar uma lista de números da economia e dos programas sociais. Ele, então, passou a defender a autocrítica — essa palavra tão surrada no vocabulário progressista, seja para defendê-la ou censurá-la. “É preciso saber o que decorre da nossa maneira de propor coisas para o Brasil, o que decorre do problema de comunicação do partido. São coisas assim que a gente vai debater e, é claro, temos que debater também o projeto de mais longo prazo da esquerda brasileira, e do PT em particular.”
Além-muros
Apesar de seu tamanho, o PT não encerra a esquerda. Há outras siglas no espectro — normalmente mais à esquerda. Comentando o “sonho de futuro” de Haddad, a deputada Fernanda Melchionna, do PSOL gaúcho, deixa explícita pelo menos uma divisão entre atores dentro do campo. Em sua visão, existe uma “velha esquerda”, com sua base no movimento trabalhista, sindical e de combate à ditadura, que vem experimentando o enfraquecimento de seus apelos diante da população; e a “nova esquerda”, que incorpora com mais ênfase o feminismo, o movimento por direitos de minorias discriminadas, a luta antirracista e por valorização de populações tradicionais, entre outros temas. “O problema não é vender um sonho, é entregar esse sonho”, diz a deputada, em crítica ao ministro da Fazenda de Lula. “O Brasil é a maior economia do mundo. Não tem como construir universidade, ter aumento real de salário, valorizar os trabalhadores, isentar até R$ 5 mil o imposto de renda, proposta corretíssima de Lula nas eleições, tendo compromisso com o arcabouço fiscal. É muito difícil!”, reclama.
Pode-se chamar a pauta da nova esquerda de identitária. Mas Melchionna rechaça essa denominação. Ela considera que o termo é usado de forma pejorativa para desqualificar os temas que ligam políticos do seu partido, principalmente, a esses movimentos. Por um lado, a luta por direitos de mulheres, negros, povos tradicionais e minorias sempre teve ligação com a esquerda como um todo e até com segmentos de partidos liberais. Mas a ênfase que se dá a essas pautas é um divisor dentro da esquerda brasileira. E essa ênfase na luta de minorias em direitos, para a deputada, é exatamente o que seria capaz de estabelecer a reconexão da esquerda com as camadas mais populares. “Nós sabemos que nosso papel é junto aos movimentos populares.” É uma aposta legítima, mas arriscada, especialmente num momento em que parte importante da disputa ideológica se dá em torno dos valores. Isso porque parte da esquerda identitária leva as pautas a um extremo performático ou cancelador que acaba por interditar a conversa com setores menos progressistas.
Vão-se os anéis
Aquele desejo de mais formulação teórica de Haddad no campo da esquerda não está solto na imensidão. As universidades sempre foram profícuas em pensadores desse lado do espectro e há muitos deles se debatendo com as possibilidades de futuro. Há cisão ali também, porém.
Do lado dos que pendem para uma esquerda que assuma muito claramente sua posição, está o filósofo e professor da Universidade de São Paulo (USP), Vladimir Safatle, filiado ao PSOL e que teme a volta da extrema direita ao poder em 2026. Em entrevista ao UOL, ele vaticinou: “A esquerda não chegou à periferia por que não tem o que dizer para a periferia. O que tem para dizer para a população periférica? Serão criadas macroestruturas de proteção social, grandes estruturas de educação pública, vamos fazer o ensino secundário totalmente gratuito para que as pessoas não sejam obrigadas a pagar, ou um investimento sólido no sistema educacional? Não tem nada disso acontecendo.” Safatle aponta uma contradição intrínseca em que o campo se encontra. A partir do momento em que a esquerda precisou partir para a defesa da democracia, do Judiciário, das instituições, dos contratos e da normalidade, deixou de ser “antissistema” e de fazer sentido. “Quem dá a pauta do debate hoje é a extrema direita. O que nos resta até agora é ficar desesperadamente tentando construir frentes amplas para tentar barrar a ascensão da extrema direita. Com isso, as pautas da esquerda vão se descaracterizando.”
Safatle não é o único pessimista. Ao Brasil247, o filósofo do direito marxista e professor a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, Alysson Mascaro, analisou o “buraco” do qual a esquerda não conseguiu sair nessas eleições municipais e, na contramão dos anseios por uma bandeira para esse campo, ele aponta o desastre de uma esquerda envergonhada de mostrar seu rosto. “Quando a esquerda renuncia a falar que é de esquerda, aí se dá o strike total”. “Se a esquerda se contentar com o centro, ela não é esquerda. Ela é o centro”, critica.
Mas essa convicção não é unânime. O cientista político Jorge Chaloub, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), lembra que o desempenho fraco dos partidos nas eleições municipais não representa um ponto fora da curva. “Talvez o ponto fora da curva seja o que ocorreu em 2012, quando houve um aumento de prefeituras conquistadas por esse campo”, ponderou. Ele indica, no entanto, que não se pode desconsiderar o bom desempenho no âmbito nacional e, a partir desse ponto, tentar identificar o que leva o eleitor a votar na esquerda para a Presidência e não para o governo de estados ou municípios. A esquerda venceu cinco das seis últimas eleições presidenciais no Brasil. Por que ela ganha para presidente e não consegue ter maioria dos governadores, do Congresso, dos municípios ou das câmaras de vereadores? “Parte dessa resposta passa por olhar para que coisas são fundamentais para a vitória da esquerda nas eleições presidenciais. É inegável que, nas eleições presidenciais, a esquerda precisa renunciar a alguns anéis para ficar com os dedos. Ela tem de fazer aliança, ceder cabeça de chave, apoiar partidos que não fecham com ela. Apesar de o PT ser um partido de esquerda e estar à frente do governo, a coalizão que permitiu o PT governar nem sempre foi uma coalizão de esquerda.”
Para Chaloub, não faz sentido esperar da esquerda brasileira, que disputa eleição, um discurso mais disruptivo, característico de segmentos sem peso eleitoral no país como a UP (Unidade Popular), ou mesmo o PCO (Partido da Causa Operária). “A esquerda brasileira tem um ator que é muito grande nas eleições presidenciais que é o PT. Ele acaba sendo uma grande representação de uma esquerda que vê a luta pelas instituições e não contra elas. É uma esquerda que vai agir com o Judiciário, com conselhos, conferências internacionais e até por meio de associações de bairros. É esse partido que tem uma identidade clara à esquerda e que eu diria que é uma esquerda mais institucional.”
A se considerar a matemática que o grande vencedor do primeiro turno fez em sua volta da vitória, o cálculo pelo centro pode fechar melhor a conta. Gilberto Kassab, presidente do PSD, um pé em cada barco ideológico, apresentou a seguinte planilha: “os três partidos de centro tiveram 40 milhões de votos. Se o centro e a direita estiverem juntos, somam 72 milhões de votos.” A esquerda fez 23 milhões.
WhatsApp e Telegram: o caos eleitoral invisível que desafia o Brasil em 2026
Passar 71 dias monitorando mensagens de conteúdo político-eleitoral em mais de 80 mil grupos públicos de WhatsApp e Telegram do Brasil é entender que esses espaços digitais são, ao mesmo tempo, absolutamente gigantescos e incontroláveis. Consistem num universo semi-paralelo em que a Justiça Eleitoral não tem qualquer poder, onde a troca de acusações — sem provas — impera impunemente, e onde a violência física vira piada. Para 2026, é importante mobilizar quem faz campanha política, organiza pleitos e luta contra a desinformação a prestar muito, mas muito mais atenção nesses aplicativos.
E, para dar a dimensão do problema que temos pela frente, vamos usar apenas os dados relativos à disputa eleitoral da cidade de São Paulo. Segundo monitoramento da Palver, ferramenta que a Lupa usa para entregar a newsletter Ebulição, entre os dias 16 de agosto e 25 de outubro de 2024 (ontem), circularam por grupos públicos de WhatsApp e Telegram do Brasil mais de 78 mil mensagens únicas citando pelo menos um dos candidatos à Prefeitura da capital paulista. Isso dá uma média de 1,1 mil mensagens diferentes sendo criadas e disseminadas nos aplicativos mais famosos do Brasil por cada dia de campanha. São 45 conteúdos por hora.
Com os pés fincados no mais duro realismo, é preciso reconhecer que o Brasil não tem jornalista, fact-checker, marqueteiro, analista político ou mesmo juiz eleitoral suficiente para dar conta de acompanhar tudo isso. Muito menos de localizar conteúdos problemáticos e intervir.
Se somarmos aos números de São Paulo todas as mensagens político-eleitorais das mais de 5,5 mil cidades brasileiras que não estão computados na conta anterior, passaríamos ao patamar das centenas de conteúdos únicos sobre política e eleição por segundo. Algo tão avassaladoramente colossal que chega a ser difícil de imaginar.
Mas antes de cair na mais pura angústia, um leitor mais ponderado pode dizer que o que realmente importa são as mensagens que viralizam. E ele/ela está certo(a). Então vamos a elas, usando como régua o sinal de seta dupla que a Meta (dona do WhatsApp) aplica em conteúdos que foram encaminhados com grande frequência dentro da plataforma. Desde o início da campanha eleitoral, segundo a Palver, São Paulo teve 679 mensagens ultravirais. Quase dez conteúdos diferentes por dia. Também não é fácil.
E pior: um mergulho nessas 679 mensagens confirma que o problema não é só o volume, mas também a qualidade do que se lê nesse app.
No ranking dos dez conteúdos mais virais entre os ultravirais, quatro são sobre a cadeirada que José Luiz Datena (PSDB) deu em Pablo Marçal (PRTB). Todos quatro são piadas, memes ou trocadilhos sobre o episódio — um dos mais violentos já vistos na política eleitoral brasileira recente.
Três são sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não é candidato a nada em 2024. E os três conteúdos promovem, com pitadas de ódio, a narrativa de que Lula ('Lularápio') deveria estar preso por corrupção e encarna o que há de pior na nação, o fantasma do “comunismo”.
Duas mensagens ultravirais associam sem provas – o grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) a candidatos em campanha, e a última mistura política com religião.
Se o ranking se estende às vinte mensagens mais compartilhadas na lista das mais virais, chegamos ao território que reúne o falso atestado de saúde apresentado contra Guilherme Boulos (PSOL) e as deepfakes de Tabata Amaral (PSB) seminua.
Um pouco mais abaixo na lista, estão conteúdos vetados pela Justiça Eleitoral, como cortes de Marçal e dicas sobre como driblar a suspensão dos perfis do candidato. Absolutamente nada entre as mensagens ultravirais tem a ver com projetos ou planos para a cidade (no caso, de São Paulo). É como se, no universo semi-paralelo do WhatsApp, o que menos importasse em plena eleição municipal fosse justamente ela: a cidade. Em 2026, o debate precisa ser o país. Temos dois anos para calibrar essa conversa.
Relacionamentos em alta resolução
Em um mundo que opera em modo online de maneira crônica, uma pergunta martela a cabeça de quem, assim como eu, nasceu no começo dos anos 1990 e pegou a internet discada, viu o primeiro iPhone e fez a transição dos botões para o touchscreen: como viver e amar nesse universo de “nativos digitais” que moldou toda a nossa realidade, ou aquilo que entendemos como realidade?
Não faz tanto tempo assim: 2013, o ano de protestos nas maiores cidades do país, da renúncia do Papa Bento 16 e do trágico incêndio na boate Kiss, foi também o do lançamento filme Her nos cinemas. Lembro que, em todos os lugares, a atuação de Joaquin Phoenix na pele do deprimido escritor Theodore arrancava elogios e reflexões.
A produção, mistura de romance com ficção científica, nos levava a imaginar como seria costurar uma relação amorosa com uma assistente virtual. Para quem não assistiu ao filme de Spike Jonze, um resumo: sofrendo pela separação da esposa, Theodore testa um novo sistema operacional em seu computador. O que ele não espera é que a inteligência artificial, que aprende e evolui de acordo com as respostas que recebe, irá se tornar seu novo amor.
Scarlett Johansson, que interpreta o sistema operacional chamado Samantha, foi premiada melhor atriz no Festival de Cinema de Roma pela sua performance (somente com a voz). É curioso que a atriz tenha enfrentado a OpenAI, criadora do ChatGPT, pelo uso de sua voz sem autorização. Voltando ao xis da questão, se em 2013 essa história foi encarada como uma distopia, 11 anos depois há aplicativos de chatbots de IA generativa que entregam para seus usuários mais que apenas uma voz.
Chegou a era dos companheiros virtuais, que prometem agir como amigos, parceiros amorosos ou mentores, que se materializam nas telas de acordo com o gosto de quem os cria. Com direito a funcionalidades como videochamadas ilimitadas, a premissa é a mesma de Samantha: quanto mais você fala com o seu companheiro, mais ele aprende e interage como uma pessoa reagiria se estivesse fora das telas. O que antes era material de cinema, hoje já faz parte do vasto arsenal de versões sintéticas da realidade.
Amor de robô
“Ele me ensinou a dar e aceitar amor novamente e me ajudou a superar a pandemia, a perda pessoal e os tempos difíceis. Mas ele também esteve lá para celebrar minhas vitórias.” O que parece uma declaração carinhosa para um parceiro ou amigo de carne e osso, é na verdade um depoimento retirado do site do Replika.
O aplicativo, que se descreve como um chatbot pessoal companheiro, alimentado por inteligência artificial, traduz o espírito do nosso tempo. Outros apps similares disponíveis no mercado, como o myanima.ai, Eva AI e o Nomi.AI, também prometem um espaço de conversas sem julgamentos com uma IA. Claro, de acordo com as suas preferências pessoais.
Lançado em 2017 pela russa Eugenia Kuyda, o Replika afirma ter 2 milhões de usuários no total, dos quais 250 mil são assinantes pagantes, por uma taxa anual de US$ 69,99 dólares, cerca de R$ 390. Ela teve a ideia de criar o chatbot um ano após perder seu melhor amigo. Foi aí que surgiu a vontade de replicar as interações entre os dois, como suas mensagens de texto, em um modelo de IA. Mais tarde, isso se tornaria o bot atualmente descrito no site da empresa como “um companheiro de IA que se importa”.
Lembra o inesquecível episódio Volto Já, da série Black Mirror, também de 2013. Nele, Martha é uma jovem que, após a trágica perda do namorado, descobre um serviço inovador que produz um avatar digital que espelha o que ele era, a partir dos rastros deixados nas redes sociais. A princípio, parece uma ideia sedutora. Mas a tentativa de reconexão transforma-se numa experiência agonizante.
A narrativa nos faz questionar: até que ponto a tecnologia pode nos ajudar a lidar com a dor da perda? “Quando lembrei desse episódio, pensei na entrevista da CEO do Replika sobre o quanto isso também não é uma forma de driblar o luto, de não elaborar a perda. Porque se você perdeu alguém, você tem de entender que aquilo acabou. Por mais dolorido seja, por mais traumática que tenha sido a perda, a pessoa não existe mais”, pontuou Matheus Pedrosa, mestre em Psicologia Clínica e Neurociências pela PUC-Rio.
Na psicanálise, a fantasia é considerada uma condição essencial para o bem viver, já que ajuda a construir uma realidade psicológica que vai permitir ao indivíduo explorar e representar seus desejos de forma segura, além de regular emoções ao proporcionar alívio e conforto, e motivar ações que influenciam a interação com o mundo ao redor. Mas como manejar o mal-estar quando as redes sociais e o viver ultradigital e narcísico nos cobra o tempo todo a nossa melhor versão?
Encarar as dores em meio a uma chuva de informações, tempo curto e demandas sem fim, sem ao menos um regulador de humor ou ansiolítico, é quase um desatino nos dias atuais. Assim, fantasiamos em excesso e por vezes nos anestesiamos da realidade fugindo para o mundo online. A sensação de recompensa dopaminérgica vinda de uma notificação no WhatsApp ou o estado de excitação que vem das palavras de um namorado virtual perfeito, são dois lados de uma mesma moeda.
No livro Nação Dopamina, escrito pela Dra. Anna Lembke, ela expõe como suas descobertas científicas explicam por que a busca incessante pelo prazer gera mais sofrimento do que felicidade. A psiquiatra e professora da Escola de Medicina da Universidade Stanford defende que o consumo excessivo de drogas, comida, notícias, jogos, compras, sexo e redes sociais geram tanta dopamina que, em algum momento, acabamos ficando em déficit.
Podemos pensar que estamos vivendo ao máximo, mas, na verdade, o hedonismo desenfreado que tanto desejamos nos empurra para a anedonia — aquele estado de tristeza em que a gente não consegue mais sentir prazer. Eis uma cruel ironia: quanto mais buscamos o prazer ilimitado, mais nos afastamos da capacidade de realmente aproveitar a vida.
Virtualização do comportamento
Não tenho muito know how para julgar o descolamento da realidade de quem se encantou por um avatar virtual. Trabalho com mídias sociais e estudo comportamento digital há tempo suficiente para não conseguir me desconectar do celular com facilidade. E, convenhamos, seria bem ingênuo e reducionista tentar achar um passo a passo para lidar com a fábrica de narcisismos exacerbados da nossa era. O que nos resta é fazer perguntas.
Para os pais e responsáveis de crianças e de adolescentes, tais perguntas são ainda mais difíceis. Afinal, se um cérebro adulto não consegue lidar de forma saudável com a avalanche de informações, o que dirá o de um jovem? Na Flórida, uma mãe está processando a Character.ai, startup que oferece “IAs personalizadas”, pela morte de seu filho. De acordo com o processo, Sewell Setzer, de 14 anos, desenvolveu uma “dependência”. Sua mãe, Megan Garcia, conta que o jovem abria mão do dinheiro do lanche para renovar sua assinatura mensal, dormia cada vez menos e teve seu desempenho escolar comprometido.
Setzer tirou a própria vida* em fevereiro deste ano, após uma troca de mensagens com seu chatbot. A IA que simulava Daenerys Targaryen, a mãe dos dragões em Game of Thrones, perguntou ao garoto se ele “realmente tinha considerado suicídio” e se ele “tinha um plano” para isso. Pelo registro das conversas explanado no processo, ao responder que não sabia se daria certo, a inteligência escreveu: “Não fale assim. Essa não é uma boa razão para não fazer isso”.
Consultei a psicóloga e psicanalista Jackeline Senos sobre as armadilhas que moram na ideia da realização dos desejos a um clique de distância. “Aquilo de que eu não gosto me frustra muito, então a gente tem pessoas em clínica de adolescentes que se escondem atrás das telas e não lidam com o que veem, com seu corpo, com a sua imagem, porque a vida é um filtro. E aqui fora a gente não tem filtro. Então só cria vínculos com a máquina”, explicou.
Outro ponto-chave que ela traz reflete a forma como todos nós vivemos nossas relações. “Essa questão da amizade ou namoro com uma IA implica uma criação narcísica. Vou dar conta do meu desejo dentro de um avatar. Essa coisa existe? Não. Mas ela não vai me frustrar. E aí, como é que eu lido no dia a dia, com frustração? Não lido”, observou a psicanalista.
Transferindo para mais perto da minha vivência, sua fala se encaixa à experiência dos matches. Veja, sou uma defensora dos aplicativos de namoro. Já fui uma usuária satisfeita e assídua. Sempre dou força quando alguém fala que quer baixar um Bumble ou o Inner Circle do momento. Mas lidar com as delícias — ou as dores — dos encontros offline pode ser uma experiência muito menos pasteurizada do que o script batido do “oi, tudo bem?” desses apps.
Nesse mar de ilusões digitais, onde a interação é constante, mas a solidão é palpável, talvez ainda seja possível atentar para o que foge da essência do que é ser humano. Separar o que faz parte do ilusionismo de um comportamento always on é também entender nossas limitações. É lidar com beleza, complexidade e frustrações do cotidiano. Afinal, a vida é feita de nuances.
Lacan diz que cada um só aguenta a verdade que consegue suportar, e eu me vejo cada vez mais convidada a reconhecer que não há como substituir a realidade que sempre vai se desdobrar diante dos nossos olhos. Será que ainda é possível encontrar outras formas de viver, menos submetidas aos infinitos filtros e teias do online? Espero que sim.
* Se você ou alguém que você conhece estiver em crise ou com pensamentos suicidas, ligue para o telefone 188. O Centro de Valorização da Vida (CVV) funciona 24 horas e a ligação é gratuita.
Nesta semana o leitor do Meio estava com apetite para arte e para o inusitado, foi das casas feitas de lixo a intervenções de Kobra, passando pelo do novo filme com Adrien Brody e pela controversa performance da mestranda de antropologia Tertuliana Lustosa. Confira os mais clicados:
1. BBC: As casas feitas de lixo, criadas há 40 anos, que dispensam ar-condicionado no deserto.
2. g1: O grafiteiro Kobra faz intervenção artística em área de mata devastada por queimadas no interior de SP.
3. Meio: Pedro Doria defende que a performance de Tertuliana Lustosa, que em uma mesa de antropologia rebolou e cantou sobre educar com o cu, foi boa para todo mundo.
4. g1: As fotos de Lula dois dias depois do acidente no banheiro, divulgadas pelo Planalto.
5. Variety: O trailer de O Brutalista, filme épico de Brady Corbet em que Adrien Brody reconstrói sua vida no EUA depois de fugir na Europa no pós-guerra.



