Edição de Sábado: Por dentro das pesquisas
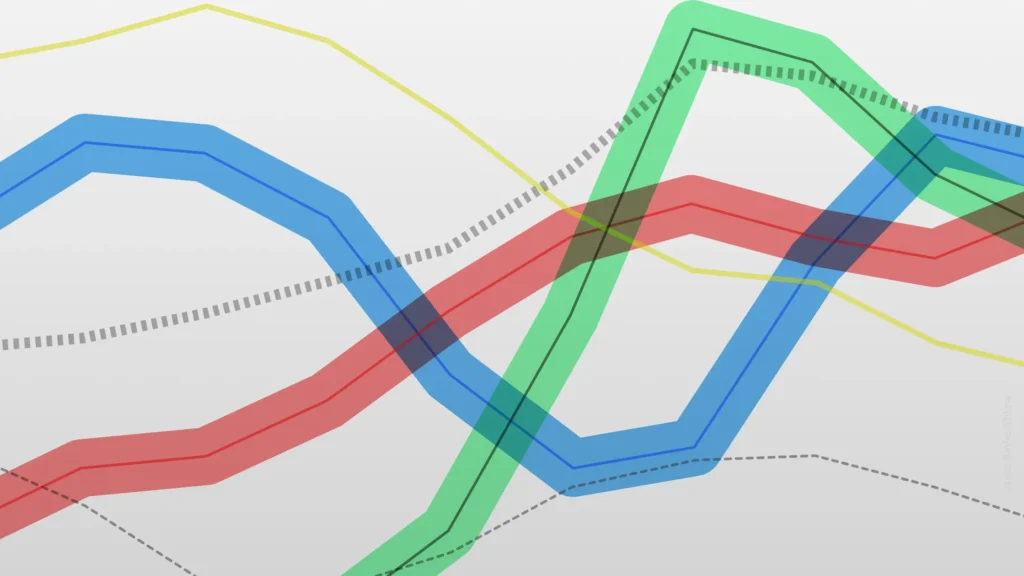
Sexta-feira à noite, dois dias antes da eleição. Pablo Marçal (PRTB), candidato à prefeitura de São Paulo, posta em sua conta no Instagram um laudo com uma suposta internação de Guilherme Boulos (PSOL) por uso de drogas. Àquela altura, os dois candidatos e o prefeito Ricardo Nunes (MDB) seguiam em um empate tríplice nas pesquisas de intenção de votos. O tiro saiu pela culatra. Os desmentidos sobre o laudo começaram a aparecer pouco tempo depois de o post ser publicado. Parecia jogo dos 7 erros. Boulos aparecia em fotos e vídeos na data em que estava internado, o número do RG do candidato do PSOL estava com um número a mais, o nome da clínica estava errado, havia erros gramaticais, o médico nunca havia trabalhado naquela clínica, a filha desse médico, morto em 2022, afirmou que aquela não era a assinatura dele. Nesta semana, o óbvio foi atestado pela perícia: o laudo era falso. O estrago estava feito.
Foi uma das eleições mais acirradas na capital paulista, e é certo que esse episódio teve influência nos resultados da disputa pela prefeitura em São Paulo, com Nunes chegando em primeiro lugar, com 29,48% dos votos válidos; Boulos em segundo, com 29,07%; e Marçal em terceiro, com 28,14%. A diferença entre Boulos e Marçal foi de 56.853 votos. Três pesquisas foram divulgadas no sábado, um dia antes das eleições. O Datafolha mostrava Boulos com 29% e Nunes e Marçal com 26%, a Quaest dava Boulos com 29%, Marçal com 28% e Nunes com 27%, já a AtlasIntel mostrava um cenário bem diferente: Boulos com 29,9%, Marçal com 27,8 e um distante Nunes com 18,6%.
Um olhar leigo poderia ler essa discrepância como um viés de determinada pesquisa. Talvez por isso a AtlasIntel tenha publicado um post no Instagram na quarta-feira após as eleições, em que listava os institutos de pesquisa que tiveram resultados mais próximos do que mostraram as urnas — seus resultados foram os mais acurados em 8 das 26 capitais —, e uma longa justificativa de por que havia ficado tão distante em São Paulo. Basicamente, porque a pesquisa havia sido encerrada na sexta-feira antes do episódio do falso laudo.
Esse é um caso bom para discutir não só como são feitas as pesquisas eleitorais, mas também para pensar em como devemos olhar para elas, como ler esse números. Ainda mais em um momento em que as pesquisas passaram a ser questionadas pesadamente. O movimento começa com o discurso de Bolsonaro no 7 de setembro de 2022, com ataques ao Datafolha, que foi seguido por uma onda de seus apoiadores de não responder às pesquisas do instituto.
Pesquisa é essencialmente ciência. A particularidade é que, como capta um momento político, une as ciências exatas e humanas. Justamente por isso é preciso treinar o olhar para compreender bem o que uma pesquisa quer dizer. “A primeira questão é que a gente não tem a ilusão de que o resultado irá bater. Mesmo se eu fizesse um censo um dia antes da campanha, não bateria com o resultado das urnas. Cada vez mais, temos um número maior de pessoas que decidem o voto aos 48 do segundo tempo”, diz Renato Meirelles, presidente do Instituto Locomotiva, que não fez pesquisas eleitorais neste ano, mas montou alguns agregadores.
Mesmo sem gostar da expressão, na sequência ele lança a frase que ouvi em diferentes entrevistas nesta semana. “Não existe mágica possível, já que a pesquisa é uma fotografia, não é um filme. Eu odeio usar essa expressão, mas pensa na corrida de 100 metros das últimas Olimpíadas. Cada fotografia de 10 em 10 metros mostrava um cenário diferente do que deu no final.” Ou seja, a pesquisa não deve servir como algo preditivo, mas é um recorte de um instante de um fenômeno político, que só pode ser compreendido perfeitamente ao se analisar a sequência dessas fotografias, e olhando para mais coisas do que apenas as posições em que cada protagonista aparece nesse registro.
Para a cientista política Carolina Botelho, pesquisadora associada do Laboratório de Estudos Eleitorais, de Comunicação Política e Opinião Pública (IESP/UERJ), os principais institutos de pesquisa tiveram uma performance bastante parecida nestas últimas eleições. As diferenças, diz, estão basicamente na maneira com que são feitas as sondagens e também em como são montadas as amostras. Hoje diferentes institutos abordam o eleitor de maneira distinta. As pesquisas podem ser presenciais, indo ao domicílio das pessoas, podem ser feitas na rua em pontos de fluxo, por telefone e online.
“Não tem a certa e a errada. Se você tem um plano amostral bem feito e cumpre os requisitos dele, a tendência é de que a pesquisa seja realizada da melhor forma possível. Entretanto, me parece que as presenciais talvez tenham uma taxa de resposta melhor dos grupos que você está tentando coletar, tendo mais controle sobre isso do que por telefone ou online”, pondera Carolina, lembrando que as principais normas dos especialistas em pesquisas foram seguidas pelos institutos sérios: ter um plano amostral, além de controle do campo pesquisado e dos entrevistadores. “Não vejo nada discrepante do que o livro manda.”
Como ouvir
Os institutos de pesquisa com quem o Meio conversou se valem de métodos diferentes para capturar o sentimento do eleitor no momento da pesquisa. A Quaest, por exemplo, faz pesquisas presenciais nos domicílios das pessoas. Para montar seu plano amostral, começa por um trabalho de georreferenciamento, em que delimita áreas homogêneas dentro das cidades. “São micro-regiões dentro das cidades em que qualquer eleitor que for entrevistado ali dentro tem mais ou menos o mesmo perfil socioeconômico e político”, diz Felipe Nunes, sócio-fundador da Qaest. Ele justifica essa opção por haver no Brasil “um padrão de votação marcado por classe social e que pode gerar viés no resultado se você não tiver uma distribuição representativa de todos esses grupos.”
O Datafolha, que também faz entrevistas presenciais, usa uma outra metodologia de coleta, desenvolvida desde a fundação do instituto há 40 anos. “A gente tem um banco de pontos em praticamente todas as cidades do Brasil. Em São Paulo, por exemplo, são mais de 7 mil cadastrados. São pontos localizados dentro dos bairros, não necessariamente de grande circulação de pessoas”, diz Luciana Chong, diretora do Datafolha. A cada pesquisa, a partir da amostra que vai ser usada, é feito um sorteio dos pontos onde o pesquisador irá realizar as entrevistas, usando cotas por sexo e idade, de acordo com a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A mais diferente é a AtlasIntel, que faz sondagens pela internet, a partir de anúncios que podem estar em buscas, em sites, em redes sociais ou no YouTube.“Tem vantagens e desvantagens dessa abordagem”, diz o CEO da AtlasIntel, Andrei Roman. Como vantagem, ele cita o fato de eliminar a figura do entrevistador, que não estará “na sua cara, olhando aos seus olhos, e julgando a resposta que você vai dar. Então, se você quer votar no Marçal, vai declarar sem qualquer medo ou qualquer tipo de auto-censura”, diz, sublinhando que, ao tirar o efeito de interação humana, o eleitor pode se mostrar menos envergonhado de suas posições, declarar sua renda com menos constrangimento.
Por outro lado, há desafios. “Você tem na internet uma galera mais politizada, um eleitor que é mais educado, mais conectado à tecnologia, talvez mais conectado ao noticiário, que se interessa mais por política, mas também que tem um nível socioeconômico acima da média. Então, a gente precisa, por conta disso, ajustar a probabilidade de resposta em grupos demográficos pré-definidos para calibrar uma amostra representativa”, completa Roman.
Uma outra forma bastante utilizada é a de sondagens por telefone. O Idea Instituto de Pesquisa, da CEO Cila Schulman, emprega diferentes metodologias dependendo dos objetivos dos clientes. “Principalmente para a eleitoral, a gente usa a CAT, que é a pesquisa telefônica com uma pessoa, porque é uma pesquisa que tem um custo ok, mas ao mesmo tempo te dá um resultado bastante acurado.” Cila lembra que esse método traz um pouco de perda de eleitores de baixa renda, o que é corrigido na ponderação dos resultados. “A gente também faz URA, que é a pesquisa com máquina, para um grupo maior de eleitores, especialmente para quando você quer fazer uma pergunta rápida, com resposta sim ou não.”
Um outro ponto, independentemente de que maneira você vai abordar o eleitor, é o da diferença entre as pesquisas em que o eleitor reponde em quem vai votar espontaneamente e, depois, optando entre um cardápio de candidatos. Renato Meirelles lembra que é cada vez mais comum não só o eleitor decidir seu voto aos 48 minutos do segundo tempo como mudar de voto. “A gente trabalha na análise política com o conceito de voto frágil, que é a diferença do que o candidato tem de espontâneo para o estimulado. Se o cara tem 20% de intenção de voto no estimulado e 10% no espontâneo, você tem 50% de fidelidade nos votos, só para ilustrar o caminho”, diz.
Um espelho do eleitor
Tão importante quanto como abordar as pessoas na hora da pesquisa é como montar o plano amostral da pesquisa. Como aquela amostra de pessoas vai corresponder ao eleitorado de determinado lugar. De novo, cada instituto usa seu próprio método, a partir de diferentes bases de dados. As principais são o Censo e a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD), além dos dados do TSE, que trazem apenas informações de sexo e idade. “Tem institutos que usam a composição do TSE, mas, para ter outras vaiáveis, é preciso recorrer à PNAD e ao Censo”, diz Carolina Botelho, lembrando que quanto mais variáveis você conseguir ponderar, melhor. Por isso, boa parte dos institutos usa os dados da PNAD, uma vez que os dados do Censo, que é realizado a cada 10 anos, costumam ficar desatualizados.
“Os dados municipais que temos disponíveis são os do Censo de 2010, porque o de 2022 ainda não divulgou dados que são necessários para a elaboração das amostras município a município.”, diz Márcia Cavallari Nunes, CEO do Ipec, instituto que não não fez pesquisas públicas nas principais capitais nestas eleições. Ela diz que seria possível fazer a coleta espontaneamente — aí é preciso desenvolver também formas de controle, na falta de dados oficiais. Para montar os controles, ela diz fazer uma ginástica, usando diferentes fontes. “Analiso o perfil do comparecimento do eleitor na última eleição daquela cidade, pego o dado da PNAD de 2023, que não tenho município a município, mas o conjunto do interior do estado. Uso também o Censo de 2010. Não é uma coisa simples de se fazer. Você tem que usar uma série de fontes de informação pra poder fazer a melhor amostra possível. Ela é perfeita? Não, porque você está trabalhando com várias estimativas. É uma probabilística. Um retrato.”
Para montar suas amostras, a Quaest usa sexo, idade, escolaridade e renda. “Sexo e idade a gente tira do TSE, escolaridade e renda a gente tira da PNAD 2023, que é a mais atual. Pronto. Feito isso, a gente vai a campo, nos domicílios, porque a única garantia que eu tenho de controlar se o resultado que eu peguei na amostra é representativo da população é comparando a distribuição na amostra de como as pessoas votaram em 2022 com o resultado da urna em 2022 naquela cidade.
Luciana Chong faz coro sobre a falta de dados disponíveis. “A gente acompanha as outras variáveis de perfil, mas não usamos cota, como renda, escolaridade, religião, o voto em eleições anteriores. São dados que a gente vai acompanhando de acordo com o nosso histórico. A cada pesquisa é feito um acompanhamento dessas variáveis para entender se a nossa amostra está representando de forma adequada aquele universo", diz.
Dinâmica da eleição
Cada eleição é diferente da outra. Se a de 2022 foi marcada pela extrema direita bolsonarista hostilizanndo os institutos de pesquisa, a percepção é de que aquele momento foi muito atípico e não se repetiu neste pleito. “Em 2022 parecia que responder pesquisa era um ato político: se você responde, você é comunista, você não é de direita. A gente sofreu bastante naquele período”, diz a diretora do Datafolha, alvo central dos ataques. “Agora, o cenário bem diferente, a gente teve poucos episódios bem pontuais de alguma hostilidade em relação aos pesquisadores, mas nada que se compare.”
Um fenômeno que tem crescido nas eleições e afeta diretamente as pesquisas é a abstenção. Mesmo com o voto obrigatório, no primeiro turno 21,71% dos eleitores deixaram de ir às urnas. E, historicamente, é algo que tende a crescer em segundos turnos. Para Felipe Nunes, da Quaest, o sinal amarelo da questão da abstenção foi nas eleições de 2022. “Quando a gente abriu a urna, o Lula tinha menos tanto. E o fator era a abstenção. Fui estudar isso. No Norte de Minas Gerais, 40% não foram votar. No Sul da Bahia, 38%; no Oeste de Pernambuco, 37%; no Sul do Maranhão, 36%. Fui estudar o modelo de likely voter nos Estados Unidos, para trazer para o Brasil, já no segundo turno, um modelo que pudesse corrigir o viés de abstenção.” Esse modelo foi aplicado às pesquisas deste ano.
Já Cila Schulman, do Idea, diz que esse é um dado que tem de ser observado com cuidado e relaciona a alta taxa à facilidade de justificar o voto hoje pelo celular. Ela também vê uma relação entre deixar de ir às urnas e a violência. “A questão da abstenção no Brasil vai ficar cada vez mais importante, e tem o componente da violência. As pessoas ficam com medo de votar. Está cada vez mais violento e cada vez mais o crime organizado entra nas campanhas”, afirma. Uma reflexão que faz bastante sentido, se pensarmos que uma das marcas do primeiro turno foi a apreensão recorde de dinheiro em espécie para a compra de votos.
Além da segurança de terem de ser registradas no TSE, com toda a metodologia descrita, sete dias antes de serem divulgadas, o que torna as pesquisas confiáveis é computar todos esses fatores. Essa mistura de estatística e leitura da realidade política. Mas para ler melhor as pesquisas, reforçam os especialistas, é preciso ir além do balé dos números, tentar mostrar que filme as diferentes fotografias mostram quando colocadas lado a lado. E também ir ao detalhe para entender os comportamentos de cada um dos grupos pesquisados. Não muito diferente de um crítico de arte que, ao olhar um quadro, tenta entender que história ele conta a partir da composição dos elementos, como as cores se relacionam e como o olho deve se comportar diante dele. Para enxergar as pesquisas é preciso sair da superfície. Como disse Renato Meirelles, uma boa pesquisa traz mais do que números, traz perguntas, referências e informações para os eleitores entenderem o cenário daquela fotografia.
Violência física bate recorde na campanha de 2024
“Se você ainda não brigou por política, ainda dá tempo”. Foi com essa frase irônica que um vídeo, mostrando homens e mulheres travando uma briga física acalorada num evento de campanha no interior da Bahia, viralizou nos grupos públicos de WhatsApp na última semana.
As imagens duram apenas 50 segundos e circularam tanto pelo aplicativo que o conteúdo ganhou a “seta dupla” da Meta. É apenas mais um exemplo de como a violência, em sua forma mais extrema — a física — tem marcado as eleições municipais deste ano.
A gravação baiana começa com um dos candidatos a prefeito do município de Medeiros Neto cumprimentando eleitores. De repente, um homem, carregando uma cerveja em uma mão e uma bandeira de outro candidato na outra, se aproxima e passa a flâmula no rosto do político. Em resposta, um terceiro homem dá um soco no portador da bandeira, iniciando uma briga generalizada. Todos caem no chão, trocando tapas e chutes. Em questão de segundos, mais de dez pessoas estão envolvidas na briga. O jingle de campanha é interrompido, e o vídeo, feito por celular, chega ao fim.
Outra cena de violência eleitoral que viralizou bastante no WhatsApp nos últimos dias foi compartilhada por uma candidata à prefeitura de Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. Num vídeo, que também levou seta dupla da Meta, ela aparece dizendo que interrompeu seu evento de campanha para exibir à câmera dois membros de sua equipe, homens que, segundo ela, haviam sido agredidos por policiais que observavam o evento. Um deles aparece com sangue no queixo e lágrimas nos olhos. A candidata diz que a PM “quebrou a boca” de seu assistente e promete tomar medidas drásticas.
Também foram parar entre os conteúdos mais virais do aplicativo de mensagens mais famoso do Brasil dois relatos perturbadores em forma de texto. Bombaram postagens que falavam sobre a história de um homem que tentou assassinar a ex-mulher a facadas em uma zona eleitoral de Aracaju e que morreu após ser baleado pelo segurança de plantão. Na mesma linha, pipocaram relatos sobre um jovem baleado e morto em Prado (BA) em meio a um conflito motivado por divergências partidárias. Nos comentários, a Ebulição identificou não só lamento, mas também (mais) ódio.
Não são só as cidades pequenas que produzem esse tipo de material. No último domingo (6), vídeos de brigas extremas travadas nas proximidades e até mesmo dentro de zonas eleitorais do Rio de Janeiro ficaram entre os conteúdos mais compartilhados no WhatsApp. Isso também prova que nem mesmo uma cidade onde as previsões já indicavam que a disputa eleitoral seria resolvida no primeiro turno fica livre da violência.
De onde vem tudo isso? Talvez de maus exemplos.
Em 8 de agosto, no debate promovido pela Band em Teresina, o prefeito e candidato à reeleição, Dr. Pessoa (PRD), deu uma cabeçada em seu adversário, Francinaldo Leão (PSOL), durante uma discussão sobre os rumos da saúde pública da capital piauiense. Dr. Pessoa alegou que Leão havia cuspido nele e que isso justificava, então, a cabeçada. As imagens do momento, no entanto, não confirmam nenhuma cusparada do psolista.
Em 1º de setembro, Leonel da Esquerda, candidato a vereador pelo PT do Rio de Janeiro, acusou o então candidato a prefeito Rodrigo Amorim (União Brasil) de tê-lo agredido fisicamente em um ato de campanha. As imagens de Leonel, machucado no rosto e nas costas, rapidamente se espalharam por grupos de WhatsApp não apenas da capital fluminense, mas em todo o país.
Em 15 de setembro, o Brasil viu a cena que entrará para a história como o auge da violência entre candidatos em campanha: José Luiz Datena (PSDB) arremessando uma cadeira contra Pablo Marçal (PRTB) dentro do estúdio da TV Cultura. Não houve uma unidade da federação que não engajasse na conversa sobre o episódio, e muitas foram as vozes em defesa de Datena.
Por fim, some-se a esses ingredientes — amplificados pela mídia em escalas cavalares — casos ainda não resolvidos de assassinatos em campanha. Em Nova Iguaçu (RJ) e Ervália (MG), dois candidatos a vereador foram mortos a tiros. Os dois homicídios têm sido tratados como episódios de violência política e já entraram nas estatísticas mais recentes sobre o assunto. Mas é bem possível que fiquem sem solução, alimentando a sensação de impunidade.
Segundo as organizações Terra de Direitos e Justiça Global, que acompanham o avanço da violência política no Brasil há algum tempo, o país bateu recordes no primeiro turno de 2024. Foram sete casos de violência política por dia de campanha, um total três vezes superior ao das eleições de 2022.
Como parar essa roda? Talvez falando explicitamente sobre ela. Encontrando formas duras de punição para “cabeçadas” e “cadeiradas” e solucionando crimes de caráter político com presteza. Caso contrário, haverá consequências severas para a democracia: o afastamento de candidatos e de eleitores da prática eleitoral.
E nós também gostamos
Hoje cabelos brancos são comuns, se não maioria, em shows de grandes bandas de rock, mas houve um tempo em o estilo era coisa de garoto. “Não confie em ninguém com mais de 30 anos”, escreveu Marcos Valle aos 28 – e cantou magistralmente Claudya aos 23. Os Beatles previam ter quatro anos de sucesso, Mick Jagger dizia ser ridícula a ideia de cantar Satisfaction aos 40, e Pete Townshend radicalizava: “Espero morrer antes de ficar velho”.
Estavam todos errados, claro. Mas é inegável que o tempo não espera por ninguém – e vamos voltar a esta frase. Na próxima sexta-feira completam-se 50 anos do lançamento de It’s Only Rock ‘n Roll, álbum no qual os Rolling Stones deixaram de ser “uma banda jovem”. Jagger já tinha 31, e o guitarrista Keith Richards os completaria no fim daquele ano. Certo, o baixista Bill Wyman e o baterista Charlie Watts eram mais velhos, mas, assim como o guitarrista Mick Taylor, mais novo, eram músicos contratados, embora membros da banda. Os Rolling Stones eram Jagger e Richards, e eles haviam amadurecido.
O álbum foi um enorme sucesso, número 1 nos Estados Unidos e 2 na Inglaterra, mas marcou uma virada de página, encerrando a fase mais intensa e criativa da banda. O cantor e seu parceiro assumiram finalmente o controle criativo total, e, após o lançamento, Taylor, mais talentoso instrumentista a passar pelo grupo, achou por bem pedir as contas.
Síndrome de ‘não é a mesma coisa’
Para entender It’s Only Rock ‘n Roll é preciso voltar um pouco no tempo, mais precisamente para fevereiro de 1969, quando o grupo entrou em estúdio para gravar seu oitavo álbum, Let It Bleed. O processo foi longo e penoso por conta do estado cada vez pior do guitarrista Brian Jones, fundador e inicialmente líder da banda. Frequentemente bêbado e muito drogado (até para os padrões dos Stones), ele só participou de fato de duas faixas, tocando cítara e congas, até ser demitido por Jagger e Richards em junho. Um mês depois, morreria na piscina de sua mansão, aos fatídicos 27 anos. Para substitui-lo, o lendário John Mayall, Papa do blues britânico, indicou seu protegido Mick Taylor, que chegou a tempo de tocar também em duas canções do álbum.
De Gimme Shelter a You Can’t Always Get What You Want, o disco era uma coleção de clássicos, com os Stones celebrando seu amor pela música negra dos Estados Unidos em cada sulco. E foi só o começo de uma sequência arrebatadora. Sticky Fingers, com a polêmica capa de Andy Warhol, combinou o som cru do grupo ao maior refinamento de Taylor e acrescentou outras pérolas ao repertório. Mas ninguém estava preparado para Exile On Main Street, álbum duplo lançado em maio de 1972 e universalmente reconhecido com o ápice dos Rolling Stones. A fúria genuína e ao mesmo tempo o clima de farra das gravações mostravam a banda ainda fiel à frase manifesto de Street Fighting Man, lançada como compacto em 1968: “O que mais um garoto pobre pode fazer, a não ser cantar numa banda de rock?” Oito anos depois, os punks levariam a ideia ao pé da letra.
O problema é que depois do ápice vem a queda. O álbum seguinte, Goats Head Soup, dividiu a crítica, que o achou menos inspirado e coeso que os anteriores. A despeito de a balada Angie, primeiro compacto do disco, ter sido um sucesso estrondoso, era consenso que a série de obras-primas havia sido quebrada. Os Stones já não eram brigões de rua, e o que fariam a seguir era uma incógnita.
Os donos da bola
Para começar, Jagger e Richards demitiram o produtor Jimmy Miller, com quem trabalhavam desde 1968, e assumiram o comando do estúdio sob o pseudônimo The Glimmer Twins (Os Gêmeos do Brilho, sutil, sutil...). E focaram no que faziam melhor, a leitura britânica do fino da música negra dos Estados Unidos, partindo do blues e do R&B (então muito diferente do gênero que hoje leva esse nome) e se espraiando pelo funk (idem) em Fingerprint File. Luxury mostra o interesse crescente deles (e de boa parte dos músicos britânicos) pelo reggae, que explodiria no álbum seguinte. Mesmo as baladas não eram tão melosas quando Angie. Till The Next Goodbye tem uma pegada country ao falar de um amor ilícito, enquanto If You Really Want To Be My Friend é soul na veia com um tom nostálgico. “Se você realmente quer ser meu amigo, deixe-me viver do jeito que eu costumava”, diz a letra.
E essa é a chave do disco. Não eram mais garotos, as relações contadas nas letras amadureceram. Se em 1964 a tônica era Time Is On My Side, dez anos depois era a vez de Time Waits For No One, com direito a um dos mais belos solos de Mick Taylor ao longo de seus quase sete minutos.
Também não faltava ironia. O refrão da faixa-título – “Eu sei, é só rock ‘n roll, mas eu gosto” – tinha um ar blasé que contrastava com a superelaborada capa desenhada pelo belga Guy Peellaert, na qual os músicos, como divindades, desciam a escadaria de um templo estilizado, cercados de mulheres e meninas em roupas gregas. É só rock ‘n roll, somos os seus deuses e não precisamos provar mais nada.
Stones quase sem Stones
Paradoxalmente, a faixa-título – uma das mais emblemáticas dos Stones – teve pouca participação da banda. No álbum, It’s Only Rock ‘n Roll (But I Like It) é creditada a Jagger e Richards “inspirada por Ronnie Wood”, então guitarrista do Faces, de quem os dois se tornaram muito próximos por intermédio de Taylor. Richards, durante uma de suas muitas crises pessoais, morou em um quarto na casa de Wood, e a canção foi composta durante uma visita de Jagger. Segundo as más línguas, o anfitrião já tinha a melodia praticamente pronta e pretendia usá-la em um novo disco solo, mas aceitou cedê-la aos amigos famosos, uma atitude que se mostrou lucrativa no futuro.
Um detalhe que corrobora a teoria é que a base da gravação foi feita durante uma jam no estúdio que Woods tinha em casa, com ele tocando violão de 12 cordas e Jagger cantando, acompanhados pelo baterista Kenney Jones (também do Faces e futuro Who), o baixista americano Willie Weeks e um certo David Bowie nos vocais de apoio. O vocalista levou a gravação para Richards, que adorou, acrescentou a guitarra elétrica e deu uma polida. Taylor, Wyman e Watts só participaram do vídeo para promover o compacto.
E que vídeo... Dentro de uma tenda inflável, os cinco Stones tocavam vestidos de marinheiros, com Richards exibindo sem o menor pudor a ausência de um dente incisivo. Como se não fosse caos suficiente, ondas de espuma encheram a tenda e quase tragaram o baterista. “Esquecemos que Charlie tocava sentado”, contou depois Jagger. Quase tudo foi improvisado. Ao saberem da espuma, os músicos – àquela altura homens de posses e bom gosto – não quiseram estragar as roupas finas, e as fantasias de marinheiro foram o que se conseguiu rapidamente. O vídeo, exibido em preto e branco nalgum programa da TV Globo, foi um dos fatores que transformaram o então guri de oito para nove anos que ora vos escreve em um roqueiro incurável.
Nem todos nascem para rock star
Mas por baixo da espuma havia tensão. Há tempos Mick Taylor estava insatisfeito por não receber o crédito que considerava devido. Em particular, reclamava coautoria de Till The Next Goodbye e Time Waits For No One. Receber um salário era bom, mas royalties seriam muito melhores. Jagger e Richards não concordavam, dizendo que o guitarrista apenas dava uma ou outra ideia no estúdio. Em dezembro, com o álbum já nas lojas e a banda se preparando para voltar ao estúdio, Taylor avisou no meio de uma festa que estava indo embora – da festa e do grupo.
Em entrevistas posteriores, o guitarrista explicou que os créditos não foram sua única motivação para sair. Ser um Rolling Stone envolvia um estilo de vida com o qual ele não era feliz, dos problemas com drogas à condição de exilado tributário para fugir dos impostos britânicos. Ele fizera o grupo crescer musicalmente, mas se sentia preso. Chegou a formar uma banda com Jack Bruce, vocalista e baixista do Cream, mas o projeto teve vida curta, dando lugar a uma prolífica carreira solo.
Como boas pedras rolantes, Jagger e Richards seguiram em frente. As gravações de Black And Blue, lançado em 1976, serviram de teste para um novo guitarrista. O escolhido foi o já mencionado Ronnie Wood, que segue no posto até hoje. Ao longo das últimas cinco décadas a banda teve altos e baixos, erros que irritaram até os fãs mais fiéis e enormes sucessos. Mas já não eram deuses descendo as escadarias do templo; na maior parte das vezes, foram mais do mesmo. No fim das contas, era só rock ‘n roll e isso era tudo o que importava.
Duas análises de Pedro Doria sobre as eleições municipais disputaram espaço com fotos de natureza, mapas de Gaza e os memes da volta do X. Confira os mais clicados da semana.
1. CNN: Imagem onírica de girinos em um lago feita pelo canadense Shane Gross ganha o prêmio de Fotógrafo de Vida Selvagem do Ano 2024.
2. BBC: Mapas mostram como um ano de guerra mudou da vida das pessoas na faixa de Gaza.
3. Meio: No Ponto de Partida, Pedro Doria avalia o resultado das eleições: a esquerda perde feio e o Centrão e a direita radical disputam as prefeituras.
4. Meio: Em outro Ponto de Partida, o argumento é de que a classe C, que representa mais da metade dos eleitores, não quer a esquerda.
5. g1: Uma coleção de memes da volta do X (ex-Twitter), as reações na própria rede de Musk, no Threads e no Bluesky.


