Saudades do que não ouvi
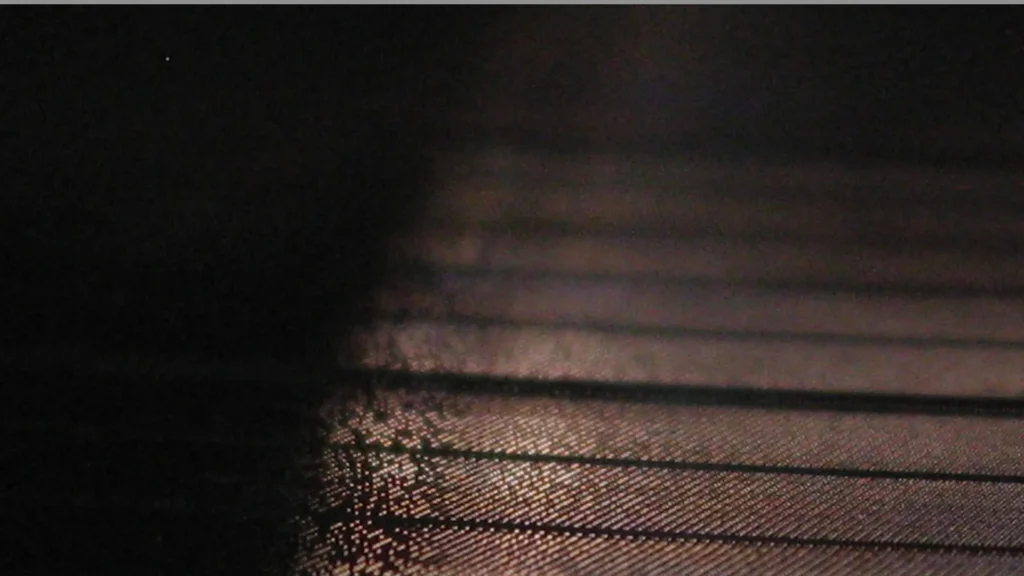
Em alguma tarde solar de meados da década de 1980, eu me vejo ainda menino atravessando os quarteirões que separam a rua Sá Ferreira, em Copacabana, da Praça General Osório. Fazia esse trajeto para gastar os trocados da mesada em algum LP na Motodiscos. Até que fosse autorizado a pegar condução, aquela era a loja mais próxima e, portanto, minha escolha estava restrita ao seu acervo. Mobilizado por dicas de familiares ou alguma informação extraída de jornais ou revistas, cada compra precisava ser muito refletida e ponderada. Cada LP era uma conquista.
Esse troféu, o disco, não era somente do ouvinte, mas também do artista. No século passado, gravar um disco envolvia uma série de barreiras de entrada. Chamar a atenção de uma gravadora era um processo seletivo análogo a de um garoto bom de bola que quer ser jogador. Para cada um que entra em campo (ou artista que assina contrato com gravadora), centenas ficam pelo caminho.
E depois de gravar, havia outras esferas a serem conquistadas: os meios de difusão, o jornalismo especializado e o público. Essas instâncias de consagração tornavam o disco um objeto de alto valor simbólico. Como um livro, sim. Mas, de certa maneira, ainda mais. O disco, ao contrário do livro, tem uma dimensão visual própria, única, enquanto a capa de uma publicação tende a variar a cada lançamento. Assim, enquanto artefato cultural, a dimensão imagética do disco é parte intrínseca da obra. Por tudo isso — e ainda mais — o disco é a encarnação física da obra de arte fonográfica: a música tangível, tátil, plástica.
Voltemos aos anos 1980… Caminhando de volta para casa, com um novo álbum na sacola, eu projetava a audição daquela peça. Imaginava como aquele disco ficaria na minha coleção. Será que eu vou curtir? Teria sido uma escolha tola? De todo modo, era uma caminhada altiva: eu era um menino que gostava de música e os discos eram parte da minha identidade!
Chegando em casa, ia direto ao estéreo que reinava poderoso no meio sala. O processo de encher o espaço nobre da casa com música era cercado de cuidados: da abertura da tampa da vitrola ao pousar da agulha no vinil, para tudo era preciso atenção e destreza. Sentava no sofá e sorvia a música enquanto manipulava a capa e o encarte. Depois de ouvi-lo, o disco ia morar com seus colegas na estante. E a cada nova audição, o ritual da escuta era precedido pela manipulação das capas, provocando poderosas ondas de referência culturais e afetivas.
O vinil ainda reinava no Brasil dos anos 1980, ainda que o CD já dominasse em outras partes do mundo. Ao final da década seguinte, motivado sobretudo por vendas de catálogo, aquele pequeno disco de plástico elevaria a lucratividade da indústria a patamares nunca vistos. Mas a audição analógica nunca seria superada, senão por uma suposta qualidade sonora superior (há controvérsias), pelo menos no quesito da experiência.
Quando preparei meu pré-projeto de mestrado, em 2016, era nessa experiência perdida que mirava. Com inspiração autobiográfica, o texto era baseado em minha própria frustração com o processo de escolha do repertório de escuta do universo digital. Piorou, né? Pelo menos para mim, isso estava mais do que claro.
Evidentemente, uma avaliação pessoal qualitativa carece de validade acadêmica. Não tardou, porém, que, no decurso do mestrado, pudesse colher referências que coadunavam com a minha percepção. No livro de David Sax, The Revenge of Analog Things, por exemplo, o autor observa que, a partir da revolução provocada pelo binômio internet + mp3, a oferta de música superou a demanda de tal forma que ninguém se dispunha mais a pagar por ela. “A aquisição era indolor. O gosto, irrelevante. […] A música se tornou um dado binário”, enquanto ouvir um disco era uma experiência mais envolvente, que apela mais aos sentidos, segundo Sax.
No entanto, quem já trilhou a tortuosa estrada da vida acadêmica sabe que são raros os casos em que um pré-projeto se converte em dissertação ou tese. Meu mestrado acabou sendo a respeito dos aparatos de escuta fonográfica, desde os cilindros e seus reprodutores aos aplicativos de streaming. Foi no doutorado, concluído no ano passado, que fui submergir na experiência de audição. Na pesquisa, o recorte foi sobre um público específico: aquele que se identifica como “fã de música”. Entrevistei 40 indivíduos, de 18 a 70 anos, com este perfil. Mais exploratório do que conclusivo, o estudo oferece alguns insights para interessados no tema.
A fonografia (campo da música gravada), tornada imaterial por uma série de processos tecnológicos na virada deste século, converte-se de produto em serviço. Descarnada do disco, as plataformas de streaming, sob a liderança do Spotify, apresentam um novo enfoque para seu objeto. A música contextualizada, associada à rotina do usuário, favorece a extração de dados semânticos ricos para serem explorados no mercado do micromarketing.
Virada curatorial
Como dizem os pesquisadores da universidade de Umea e Estocolmo, autores de Spotify Teardown, a partir do momento em que entra em jogo o algoritmo que governa as recomendações personalizadas, inaugura-se uma abordagem utilitária da música, em que ela passa a ser vista como um instrumento para facilitar a execução de determinadas atividades ou induzir estados de espírito. No livro, cunham o termo “virada curatorial” para dar nome a esse evento paradigmático. Até então, tomando como referência o Google, o Spotify se apresentava como uma plataforma de busca dedicada à música. Depois da virada curatorial, em seu modelo de negócio, a fonografia destinada à experiência estética ou questão de identidade pessoal perde relevância.
Por trás desse movimento da indústria, para além do desejo de inserção no mercado de dados, há uma horizontalização da receita. Antes concentrada em um setor do público habituado a adquirir um alto volume de produtos fonográficos (o fã), agora virtualmente (quase) tudo que as grandes gravadoras produziram na história está disponível pelo mesmo valor de assinatura. Em paralelo, a venda de fonogramas físicos, sobretudo discos de vinil, aumentam a cada ano. Progressivamente, a inconveniência e a ineficiência da audição analógica vêm se tornando irrelevantes aos olhos dos fãs frente aos benefícios que ela proporciona.
Ora, não é difícil inferir que esse movimento é uma reação de um consumidor que anseia por uma fonografia estética de alto valor simbólico. O culto a álbuns do século passado é como uma arqueologia nostálgica de uma era em que os “heróis” do fã de música gozavam de uma consagração cultural que não encontra paralelo na atualidade. E, mesmo que se façam álbuns contemporâneos magistrais registrados em vinil, estes são objetos de uma era em que a fonografia se organiza de uma outra forma. Mais fragmentária, com um público mais eclético, tem dificuldade em ganhar estatura cultural.
Álbuns como Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band e Nevermind the Bollocks Here’s the Sex Pistols, ou Chega de Saudade e Tropicália são totens culturais, icônicos, cuja gigantesca sombra é projetada pelos holofotes dos meios de comunicação de massa. Na era da internet, é como se o palco da indústria da música fosse iluminado por centenas de milhares de spots, cada um brilhando para sua bolha, em um mercado com a cauda cada vez mais longa.
O saudosismo foi uma marca dos meus entrevistados, especialmente os mais jovens. Entre a insegurança do presente e a ameaça de um futuro distópico, a nostalgia é uma característica do espírito do tempo. Saudade de uma época em que era mais simples compreender o mundo, na qual a música ecoava processos sociais, encarnando as almas daquelas gerações. Na Era do Disco, observa Lorenzo Mammì, em artigo publicado da Revista Piauí, as pessoas não gostavam de jazz, rock ou folk — elas eram jazz, rock ou folk. Ele acrescenta: “as estrelas da música popular tinham autoridade de poetas, carisma de líderes revolucionários e charme de atores de Hollywood”.
Tendência inversa é revelada pela consultoria YPulse. De acordo com a pesquisa, a geração Z tem menos apego a estilos musicais: “enquanto os jovens consumidores de gerações anteriores podem ter se sentido mais ligados a um único gênero, as playlists de hoje estão repletas de vários estilos, e a Geração Z está feliz por viver em um mundo pós-gênero”. Estimulada pelo modelo de negócio das plataformas de streaming, é uma relação menos identitária, mais instrumental e individualizada com a música. Via de regra, é uma experiência vivenciada em segundo plano, com a atenção do usuário dividida com outra atividade.
Para um determinado nicho, contudo, aquele sobre o qual pesquisei, a dedicação à escuta é uma traço fundamental do perfil. Não foram poucos os entrevistados que revelaram se ressentir de não praticar mais essa audição com a frequência que gostariam. Outros disseram que fazem um esforço consciente para ouvir música com atenção. “É o modo correto de escutar música”; “não posso perder isso”; “sem isso, eu não sou mais eu”, foram algumas das frases proferidas pelos participantes.
A saudade é um sentimento pungente que se expressa à direita e à esquerda nesse tempo confuso em que vivemos. Seja para evocar um passado mítico e glorioso, quase sempre ilusório; seja para ansiar por experiências analógicas que conferem sentido à existência. O perigo é quando a nostalgia chega às raias da alienação, impedindo de desfrutar e reconhecer as vantagens e potências do universo do streaming. Do artista ao ouvinte, hoje o mercado de música é mais barato, democrático e colaborativo.
Do lado da oferta, há novos artistas, novos canais, novos formatos a serem descobertos. A chave para navegar nesse mundo revolto do acervo inextensível é uma curadoria, não necessariamente robótica, que ofereça valor semântico ao nosso consumo de música gravada. Desbravemos com coragem, pois.


